Opinião
A precarização do trabalho em tempos de coronavírus
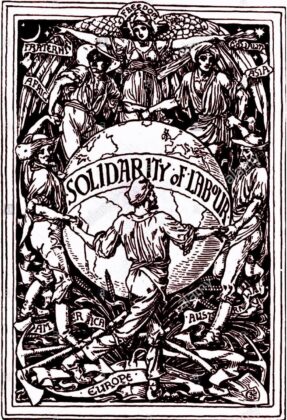
Amanda Alexandroni e Maria Alice de Carvalho* – Redação UàE – 09/04/2020
Em meio a pandemia causada pelo Covid-19, o trabalho informal aparece como uma importante e contraditória questão ao se analisar as medidas restritivas adotadas para diminuição do contágio da doença, tal como o isolamento social. Os trabalhadores informais são encurralados porque, de um lado as contas correntes continuam chegando, mas de outro, estão desprovidos de qualquer garantia para efetuar os pagamentos – para além dos míseros R$ 600 reais do auxílio emergencial -, sendo impulsionados, pela necessidade de garantir a vida, a exporem-se aos riscos de contágio oriundos do mundo do trabalho. Além disso, esse grupo tende a fazer parte dos que mais serão afetados pela crise econômica, agora catalisada pelo coronavírus, estimada maior que a recessão de 2008-2009.
De acordo com informe publicado na última terça-feira (07) pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), a taxa de informalidade no Brasil chegou a 46% [1] . A taxa mundial é de 61%, o que representa cerca de 2 bilhões de pessoas trabalhando informalmente, a maior parte delas em países de capitalismo dependente.
Nos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD), apresentados em 14 de fevereiro, o trabalho informal no Brasil aparece como a principal atividade econômica em 11 dos estados brasileiros e de mais de 40% da população em 21 estados [2] . O trabalho informal alcançou seu maior nível desde 2016, atingindo recorde em 19 estados mais o Distrito Federal. O que representa 38,4 milhões de pessoas no Brasil que encontram-se, hoje, sobrevivendo através do regime de trabalho informal.


Fonte: PNAD/IBGE. Os valores correspondem ao observado no último trimestre móvel.
É esse, dentre tantas outras questões, um dos motivos de o Brasil ser considerado um dos países que mais será afetado pela pandemia do coronavírus, junto à Índia, onde 90% dos trabalhadores são informais, e à Nigéria – dados da OIT. A alta informalidade do trabalho, que já alcança até mesmo o setor industrial, em comorbidade com a contraditória necessidade de paralisação das atividades de trabalho, coloca o Brasil em um dos piores quadros da pandemia.
Além de não possuírem proteção básica, como cobertura da proteção social, melhor acesso à serviços de saúde e recebimento de renda substitutiva caso precisem se ausentar do trabalho por motivo de doença, os setores em que a maior parte dos trabalhadores informais se encontra comportam um alto risco de contaminação, como pedreiros, empregadas domésticas, vendedores ambulantes, motoristas de aplicativo, entregadores, dentre tantos outros que são categorizados, ironicamente, como trabalhadores autônomos ou microempreendedores.
Como chegamos até aqui?
A flexibilização e informalidade dos regimes de trabalho não foram fruto da espontaneidade de nosso tempo. Antes, são resultado de processos históricos complexos e imbricados pelas contradições do modo de produção capitalista.
Os “celetistas”
Os trabalhadores contratados sob regime de CLT (Consolidação das Leis de Trabalho) vêm sendo, historicamente, submetidos a diversos mecanismos, viabilizados pelo Estado brasileiro, que restringem o acesso a direitos construídos pela classe trabalhadora. Lancemos luz sobre o papel da intensificação das terceirizações e da Reforma Trabalhista de 2017 no avanço da precarização do trabalho formal no Brasil.
As terceirizações desenvolveram-se em quase todos os países capitalistas durante a década de 1970. No Brasil, passou-se a adotá-las mais intensificadamente durante o debate da Reforma Administrativa do Estado. Nesse período, a crise produtiva do capital foi colocada pela ideologia burguesa na conta do déficit fiscal do Estado, apontando os “gastos públicos” – investimentos em políticas sociais e administração pública – como responsáveis pela recessão econômica. Com recursos públicos as empresas brasileiras foram orientadas a inserir estratégias de “modernização”, reduzindo tempo de produção e flexibilizando sistemas produtivos, adequando-se aos novos padrões de competitividade.
Na esteira dessas mudanças, as terceirizações nas grandes empresas geraram maior sobrecarga aos trabalhadores, já que mantiveram pequena quantidade de trabalhadores fixos nas atividades fins. Os demais foram submetidos a uma diversidade de contratos de trabalho menos estáveis. Além disso, com a diversificação nos regimes de trabalho dos setores produtivos e a rotação massiva de trabalhadores, a organização sindical tornou-se mais difícil.
Segundo relatório técnico do DIEESE com dados de 2014, ou seja, anteriores à Reforma Trabalhista, quando se compara atividades tipicamente terceirizadas com as tipicamente contratantes, nota-se maior rotatividade dos trabalhadores e maiores jornadas de trabalho, ao passo que a duração do vínculo empregatício tende a ser menor. Além disso, não se verifica elevação da remuneração com avanço da duração do vínculo empregatício. Também nesse caso, trabalhadores terceirizados encontram-se mais expostos aos riscos em acidentes de trabalho.
Se por um lado as terceirizações foram apresentadas como uma solução para a crise do final do século XX, por outro lado, no início dos anos 2000, quando houve certa estabilidade e crescimento econômico, não verificou-se recuo nessa legislação. Esse é um elemento importante para a atual conjuntura. Se as crises são justificativas para avançar reformas que intensificam a precarização das relações de trabalho, nos momentos em que há crescimento econômico, o Estado não revisa seus ataques aos trabalhadores. Pelo contrário, na próxima crise, verificamos avanços de certas tendências cujos fundamentos já haviam sido estabelecidos previamente.
Foi nessa direção que deu-se a aprovação da Lei 13.429/2017, que eliminou qualquer ambiguidade legislativa no tocante à terceirização das atividades-meio das empresas. Além disso, a Reforma Trabalhista destruiu grande parte dos direitos celetistas, por meio da ampliação do conceito de trabalho temporário e da contratação periódica, eliminando o caráter temporário desta última. Passou a formalizar, juridicamente, os trabalhadores autônomos e autorizou a formação de cadeia de subcontratação por pessoa física. Ademais, instituiu a responsabilidade subsidiária (e não solidária) entre empresas terceirizadas. Junto com as medidas de precarização do trabalho, a Reforma também impõe maiores dificuldades de organização sindical, com a prevalência do negociado sobre o legislado e o fim da contribuição sindical obrigatória.
E os servidores públicos?
As terceirizações também atingiram as atividades do Estado durante a reestruturação produtiva iniciada na década de 1970. Com o debate da Reforma Administrativa, pautou-se a inserção de critérios de trabalho da iniciativa privada no interior da máquina pública, por meio de mecanismos que transformaram tanto a lógica quanto o caráter das atividades até então compreendidas como públicas. Como solução para o déficit público, passou-se a terceirizar atividades-meio no setor Estatal, como limpeza e segurança, inserindo regimes de trabalho com tendências mais precárias do que tradicionalmente estabelecido no Estatuto dos Servidores Públicos.
Além disso, inseriu-se a lógica do terceiro setor no interior do Estado, em atividades que não foram totalmente terceirizadas mas que também não estavam submetidas à gerência exclusiva do Estado. É nesse contexto que surgem as Organizações Sociais, entidades públicas de direito privado que estabelecem contratos e são financiadas pelo Estado, apesar de estabelecerem regimes de trabalho não estatutários. Uma das consequências da inserção de Organizações Sociais nos exercícios cujos trabalhadores até então estavam submetidos ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos, estabelecido na Constituição de 1988, foi a adesão, no interior do Estado, de empregados públicos regidos pela CLT – que estão sujeitos portanto às precarizações mencionadas anteriormente. Verificamos, portanto, que a terceirização no setor público tem se colocado como uma alternativa para a flexibilização da gestão do trabalho, tensionando trabalhadores tradicionalmente vinculados ao Estado por meio de regimes de trabalho mais seguros. Não à toa, Paulo Guedes tem insistido na nova Reforma Administrativa e que, em meio à pandemia de coronavírus, apresenta-se pela ideologia burguesa como saída aos impasses econômicos, uma proposta de revisão dos regimes de trabalho dos Servidores Públicos.
Já tramitam no Congresso Nacional projetos de leis que vão de encontro às égides do Estatuto dos Servidores Públicos, como o PL 116/2017, que autorizaria demissão por desempenho, ferindo a estabilidade desses trabalhadores e o PL 375/18, que tem como alvo o direito à greve, dificultando a organização da categoria que, pela segurança jurídica respaldada pelo caráter estatutário, possui mais condições para fazer os enfrentamentos ao capital no momento de acirramento da conjuntura. Além desses, o Plano Mais Brasil, ainda não enviado ao Congresso, também apresenta uma série de medidas hostis a esses trabalhadores.
Em meio a pandemia do coronavírus, surgem alternativas como a PL 1144/2020, apresentada por um partido da burguesia (PSDB) e apoiada pelo Presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia, que apresenta a possibilidade de redução nos vencimentos dos servidores públicos. Ainda que se apresente como uma proposta de redução temporária, escalonada e excepcional, é no conjunto dessa tendência de desestabilização dos servidores e das legislações já em voga que ela deve ser compreendida. Entre 2014 e 2018, segundo dados da Rais, o quadro de servidores públicos federais diminuiu 81 mil. Ao menos desde a Reforma Administrativa do Estado na década de 1990, o Estado brasileiro deixou claro que os servidores públicos são um impasse na produtividade requerida para saciar as demandas de capital.
Os trabalhadores informais durante a pandemia do coronavírus
Trouxemos aqui mecanismos que expressam as transformações dos regimes de trabalho, tanto no setor privado quanto público, que foram cada vez mais se flexibilizando, às custas de atender às necessidades insaciáveis de expansão do capital. A informalidade do trabalho entra nessa mesma esteira e como resultado de muitas dessas alterações aqui apontadas. Diante da crescente flexibilização das exigências do capital e, consequentemente, do crescente desemprego, os trabalhadores são convocados a se formarem cada vez mais flexíveis, “autônomos”, empreendedores e “colaborativos”.
O trabalho informal tem aparecido como saída para aqueles que encontram-se desempregados e na fila por um emprego ao qual, provavelmente, ele nunca chegará. No Brasil, por exemplo, de acordo com os dados da PNAD, o crescimento da taxa de desemprego, que caiu 11,2% no último trimestre, atingindo 11,9 milhões de pessoas, vem sendo acompanhado pelo recorde do trabalho informal no país.
Temos, portanto, um cenário em que os trabalhadores são convocados a vender sua força de trabalho em uma subordinação cada vez mais mais direta ao empregador e ao capital, sem a mediação dos direitos garantidos pelas relações contratuais do emprego. E cada vez mais isolados, em uma relação individual, sem passar pelos acordos coletivos e relações sindicais.
E percebe-se, ao observar o histórico de alterações nas formas de regime de trabalho, o papel do Estado enquanto elemento que visa esconder as determinações de classe, apresentando como naturais exigências que são, na verdade, do capital. É o aparelho Estatal que cria as condições legais de precarização – tanto no que tange a redução de direitos dos trabalhadores quanto no que tange legalizar ações antes ilegais do empresariado -, realiza a privatização de empresas e de serviços públicos, como a mais recente reforma da previdência, promove a evasão fiscal do empresariado e disponibiliza recursos do fundo público para expansão do capital em momentos de crise e, ainda, assume para si a responsabilidade de educar e disciplinar a massa do trabalhadores, tanto através dos aparelhos repressivos do Estado, aumentando as políticas de violência em momentos de crise, quanto pela inserção de processos educativos elaborados pelo patronato no sistema de ensino público, como o empreendedorismo.
O Estado, em momento algum, deve ser colocado como em oposição ao capital, como salvaguarda dos direitos do trabalhadores e dos recurso públicos. O Estado não assume uma postura passiva no assalto do capital aos recursos dos trabalhadores, nem sequer suas ações são fruto de posicionamento político; o Estado possui, no capitalismo, um papel claro, e sem ele o capital não se sustentaria.
Durante a pandemia do coronavírus, o que observamos no Brasil no que tange às relações de trabalho é a continuação e acirramento das políticas de flexibilização de trabalho, como na Medida Provisória 927, a qual mostra que independente de pandemia ou não, as políticas anticíclicas permanecem. Com essa medida, além de os trabalhadores, sejam eles considerados formais ou informais no âmbito jurídico, sofrerem redução de direitos tão caros e ficarem ainda mais submetidos aos interesses individuais de seus empregadores, muitos serão jogados ao desemprego e buscarão no mercado informal o seu meio de sobrevivência.
Uma das principais medidas no enfrentamento ao coronavírus é o isolamento social, ou quarentena, o qual vem se mostrando eficaz na diminuição da expansão do coronavírus. Porém, ao mesmo tempo que eficaz, ele aparece como contraditório àqueles que não possuem um vínculo empregatício, ou seja, nenhum direito ou garantia trabalhista, e que recebem por serviço prestado ou dia trabalhado por conta própria.
Esses trabalhadores denominados ironicamente de autônomos ou empreendedores de si, por serem “patrões de si mesmos”, de autonomia não possuem nada. Eles permanecem subordinados à valorização do valor e seu trabalho é disciplinado pela dramática necessidade de sobrevivência. Tão falsa é a sua liberdade, que agora encontram-se numa terrível encruzilhada: escolher morrer pela falta de renda ou morrer pela contração do vírus.
Com essa configuração das relações de trabalho, extremamente flexíveis e no campo da informalidade, os trabalhadores são colocadas em uma trincheira que, como se já não fosse difícil pela própria batalha, é permeada de outros empecilhos e contradições.
Para viabilizar um projeto de classe como este foi necessário não apenas empurrar coercitivamente medidas absurdas aos trabalhadores, mas torná-los defensores de sua própria autodestruição. A produção do sujeito neoliberal perpassa por medidas que organizam a sociedade civil e que pedagogicamente orientam os trabalhadores a enxergarem como liberdade a ausência de garantias. A título de exemplo, os entregadores de aplicativos, perante a omissão da figura do patrão cobrando diretamente o desempenho – tal como nos modelos tipicamente tayloristas-fordistas de produção – incorporam as exigências como expressão de sua própria vontade. Isso significa não só que o trabalhador deixe de reconhecer uma cisão entre a demanda do outro – patrão/capital – e de si mesmo, mas também de que essa demanda pode tornar-se ilimitada, visto que suas necessidades para serem supridas requerem muito de sua “própria” produção/desempenho. É assim que o seu tempo de lazer não é mais seu descanso, mas um tempo de não-produção. Além disso, o trabalhador está por sua conta e risco: qualquer fracasso é um resultado que deve ser pago de seu próprio bolso.
Nesse cenário, podemos enxergar algumas consequências e desafios para nossa classe. Com o crescente número de trabalhadores precarizados – informais ou não – torna-se muito mais difícil a organização dos trabalhadores para fazer os enfrentamentos ao capital. Além das ameaças ao direito à greve, como se organizam trabalhadores sem o respaldo da tradição dos sindicatos? Se a cada minuto não trabalhado perde-se quantias importantes para o sustento, como encontrar tempo para organização da classe?
Com uma diversidade tão grande de regimes de trabalho, os trabalhadores com o mínimo de garantias podem ser vistos pelos companheiros de sua classe como privilegiados, como temos presenciado agora na confusão que se faz com o “direito à quarentena”. Primeiro, deve-se pontuar que a quarentena está longe de ser um direito, ela é uma exigência conjuntural, fundamental para que resguardemos nossas vidas e de nossos companheiros. Tratá-la como direito gera uma confusão desnecessária. A partir do momento em que coloca-se a quarentena como um “privilégio” de poucos, gera-se uma cisão entre aqueles mais miseravelmente atingidos pela pandemia e pela crise: os trabalhadores. O antagonismo não está entre aqueles trabalhadores que conseguem ficar em casa e os que não conseguem, mas sim entre estes e aqueles que vivem às custas de sua espoliação – estes sim, que gozam de seu privilégio de classe.
Se não tratarmos dessa forma, a solidariedade, tão necessária no enfrentamento aos ataques do capital, é substituída pelo egoísmo de classe. Se cada um deve garantir a si mesmo, tratando todos como inimigo de todos como fazer o enfrentamento a uma pandemia como essa, em que a solidariedade é um elemento tão fundamental?
Para enfrentarmos esse momento que vivemos, é fundamental que compreendamos os fatores que nos trouxeram até aqui, para que assim saibamos nomear nosso verdadeiro inimigo e traçar nossas estratégias como classe. A informalidade do trabalho é apenas uma das atrozes consequências de anos de subordinação de nossas vidas ao capital, e que agora transformam um cenário de pandemia em um impasse ainda maior. À nós, não cabe esperar que o Estado apresente uma saída política, já nos ficou claro o seu papel nessa disputa. Se é esse Estado, que formaliza e media os interesses do capital, não é de um Estado forte que precisamos. Sem qualquer amarra com os projetos burgueses para a crise, a nossa tarefa é tornar os interesses da nossa classe a vontade geral da sociedade, por meio de um projeto que expresse efetivamente nossos anseios.
[1] Por trabalhador informal, a OIT compreende aqueles trabalhadores por conta própria ou assalariados que realizam atividades não abrangidas, em virtude da legislação ou da prática, por disposições formais. Atividades que não entram no âmbito de aplicação da legislação, o que significa que estes trabalhadores e unidades operam à margem da lei; ou então não são abrangidos na prática, o que significa que a legislação não lhes é aplicada, embora operem no âmbito da lei; ou, ainda, a legislação não é respeitada por ser inadequada, gravosa ou por impor encargos excessivos.
[2]Por trabalhador informal, O IBGE compreende aqueles que não possuem carteira assinada, seja no setor privado ou não, trabalhadores por conta própria sem CNPJ e empregadores sem CNPJ. Unidades econômicas que produzem bens e serviços com o principal objetivo de gerar ocupação e rendimento para as pessoas envolvidas, operando, tipicamente, com baixo nível de organização, com alguma ou nenhuma divisão entre trabalho e capital como fatores de produção, e em pequena escala, sendo ou não formalmente constituídas.
*Os textos de opinião são de responsabilidade das autoras e podem não refletir a opinião do jornal
Os textos de opinião são de responsabilidade dos autores e não representam, necessariamente, as posições do Jornal.







